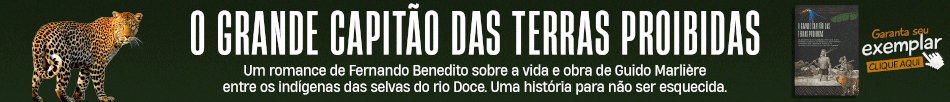(*) Thales Aguiar
Caros leitores, vivemos tempos em que a educação esqueceu de si mesma. Reformas chegam com promessas de “modernização”, mas o que se vê é o aprofundamento de um modelo de ensino voltado para a utilidade imediata, para a formação de operários do algoritmo e não de cidadãos críticos. A Reforma do Ensino Médio, que começou a ser implementada em 2021, foi recentemente alterada, aumentando a carga horária da formação geral básica e flexibilizando a parte curricular, com o objetivo de tornar o ensino médio mais relevante para o futuro dos alunos. A partir de 2025, a carga horária mínima do ensino médio será de 3.000 horas, com a possibilidade de os alunos optarem por itinerários formativos para aprofundamento em áreas de interesse ou formação técnica e profissional. Apresentada como inovação, escancara uma pergunta incômoda, que grita nos corredores. Educar, para quê e para quem? Já dizia meu amigo professor.
A lógica que orienta as mudanças curriculares é a da performatividade. Ensina-se o que pode ser quantificado, testado, avaliado em gráficos. A escola se transforma em uma usina de competências técnicas, esvaziada de reflexão, de arte, de pensamento livre. Aliás, a grande parte das universidades e diga-se de passagem as particulares, replicam a muito tempo esse modelo tecnocrata formando apenas mão de obra de baixo valor para um mercado já ultrapassado pela tecnologia. A educação virou um depósito de conteúdos fragmentados, desprovidos de sentido. A formação educacional no país não faz mais sentido.
A imposição de itinerários formativos, a retirada de disciplinas como Filosofia e Sociologia, e a flexibilização do currículo revelam o projeto de uma escola adaptada ao mercado, não à vida. A promessa de liberdade para o aluno escolher o que estudar soa como avanço, mas esconde a realidade brutal da desigualdade: quem estuda em escolas públicas periféricas terá, na prática, pouquíssimas opções. “Desescolarizar a sociedade”, como propôs Ivan Illich nos anos 1970, talvez nunca tenha sido tão urgente. Não para abolir a escola, mas para reconstruí-la como espaço de encontro e criação, e não de adestramento. John Dewey, um dos pais da pedagogia moderna, defendia que a educação deveria ser experiência vivida, e não repetição mecânica. Para ele, “a escola é a forma mais poderosa de construção de uma sociedade democrática”. Mas como esperar democracia onde há apenas controle, padronização e exclusão simbólica dos saberes que não servem ao imediatismo do capital?
A performatividade educacional, que tudo transforma em “competência” ou “habilidade”, é o sintoma de uma visão tecnocrática da existência. O jovem não é mais convidado a se perguntar sobre seu lugar no mundo, sobre o sentido da justiça, da beleza, da ética. Ele é treinado para resolver problemas, não para pensar os problemas. Está aí a grande falência de nosso tempo. Uma escola que ensina a fazer, mas não a ser. A resistência a esse modelo exige coragem intelectual e política. A luta pela valorização do pensamento humanista, pela presença da filosofia, da arte, da literatura, não é um luxo, é uma questão de sobrevivência democrática. Porque sem sujeitos críticos, formados com base na escuta, no diálogo e na alteridade, não haverá futuro digno. E uma escola que não forma sujeitos, apenas “entregadores de resultado”, é uma escola que fracassou.
A escola precisa recuperar essa sabedoria ancestral, reencontrar sua alma. E isso só será possível se ousarmos romper com a lógica da produtividade vazia, abrindo espaço para o sensível, o ético e o humano. A pergunta que me faço é essa: “educar para quem?”.
(*) Thales Aguiar é jornalista e escritor. Especialista em Ciência Política